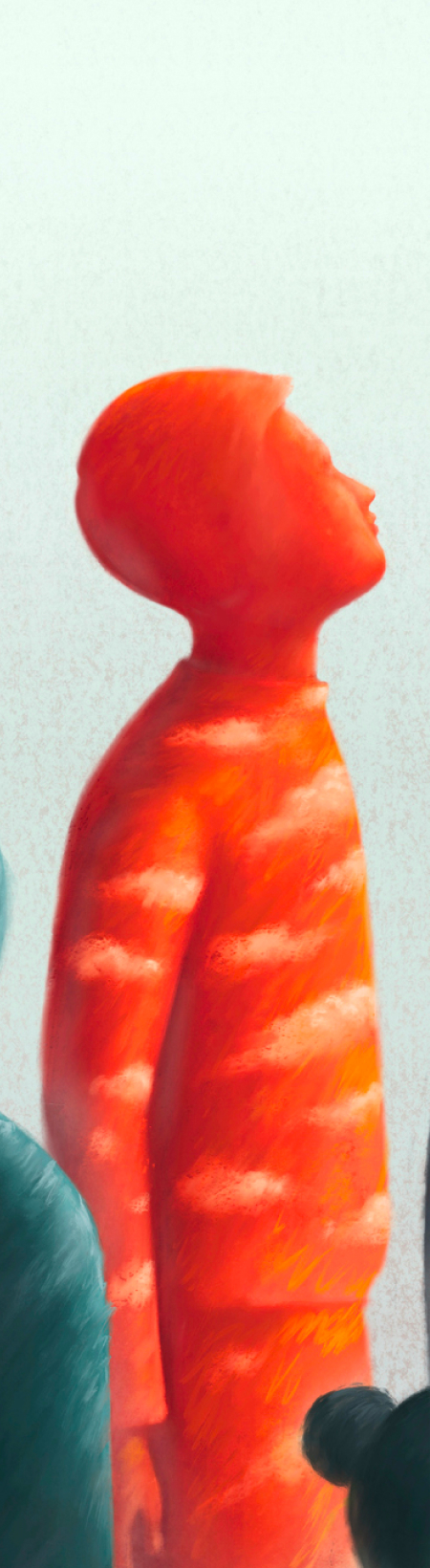Qual é a pergunta mais frequente que os jornalistas lhe colocam? É sobre o hiperconsumo?
Sim, é uma questão que surge muito. O crescimento dos Estados Unidos, e em breve da Europa, é impulsionado pelo consumo das famílias. Em 1950, consumir era comprar um carro e talvez ter, sei lá, um frigorífico. Hoje, o consumo está em toda a parte. Consumimos até nas redes sociais, em todos os lugares. Por isso, tornou-se invasivo. Ou seja, o hiperconsumo já mudou a vida. E as próprias redes sociais são uma forma de hiperconsumo.
Onde encontra as suas ideias? Qual é o seu processo de escrita? Quando percebe que está pronto para escrever um livro?
Tenho sorte. Quando se termina um livro é como uma mulher que acabou de dar à luz, um momento que, às vezes, é um pouco delicado porque muda novamente a vida. Eu não gosto de terminar um livro. Não gosto porque é uma história de amor que termina. E quando acaba fico um pouco perdido. É um momento difícil. Mas tenho sorte porque, em geral, não fico muito tempo sem encontrar um novo assunto de amor. Um novo objeto de amor. E o amor começa de novo. O importante é estar apaixonado. E sem amor não é possível viver. Sou um pouco como Don Juan.
O que o inspira?
Tudo me inspira. Tudo. E ler jornais, obviamente. Escrevo, mas ao mesmo tempo faço pesquisa. Leio muitos livros. Descubro novos dados. É, portanto, uma boa ligação entre o trabalho teórico, dos grandes conceitos, e os dados empíricos. Não sou um filósofo dedutivo. Sou uma mente abstrato-concreta, ou seja, preciso que as proposições teóricas que afirmo possam ser confirmadas pelos factos. Com a Internet temos quantidades consideráveis de dados. Sou constantemente alimentado por isso. E trabalho de uma forma muito organizada porque tenho um fio condutor, sei para onde vou e o que quero dizer. Mas depois é caótico porque tudo depende do que vou encontrar. Estou à procura. E, às vezes, o que encontro obriga-me a mudar ou bifurcar um pouco, porque encontro elementos que me obrigam a corrigir a teoria.
Tem a sorte de ter tempo para pensar. Muitas pessoas não têm tempo para refletir.
Esse é um verdadeiro problema. Vivemos na sociedade da hipervelocidade que, em vez de libertar tempo, faz com que fiquemos sem tempo. E as mulheres, em particular, têm várias vidas: a do trabalho, a vida amorosa, a vida dos filhos e da casa. Quando estão no escritório, pensam um pouco nos filhos. Quando estão com as crianças, pensam no trabalho. E têm pouco tempo para elas. Quando tinha a sua idade, aos 30 anos, o ritmo de vida não era o mesmo. Agora, as pessoas que têm responsabilidades não param de trabalhar. Tenho sorte de ter nascido numa época e de ter uma cultura que me permite um grande luxo, que é fazer o que quero. Ninguém me obriga a escrever livros, faço-o livremente. Não quero ordens, faço no meu ritmo. O tempo livre, tem toda razão, tornou-se um superluxo. É preciso tempo para aprender, para dar atenção às crianças, para desfrutar de uma boa refeição, para visitar uma cidade bonita, para amar. É preciso tempo para praticar e é preciso tempo para pensar. Escrevi livros que podem ser muito contestados. Mas, francamente, fiz o melhor que pude. E fi-lo porque não tinha restrições.
Gostaria de ter vivido noutra época?
A modernidade, na primeira metade do século XX, foi horrível. Duas guerras mundiais, os campos de extermínio, os gulags. Como se pode sentir nostalgia de uma época anterior? Gostaria de ter vivido as eras avants-garde, mas os tempos eram horríveis. O hiperconsumo coloca problemas, mas, em última análise, ainda o prefiro à miséria da década de 1930, depois da grande crise económica. Vivemos cada vez mais e os bebés nascem saudáveis. Temos agora uma esperança de vida superior a 80 anos e estamos em boas condições físicas. É claro que há problemas, mas não devemos ver apenas os aspetos negativos.